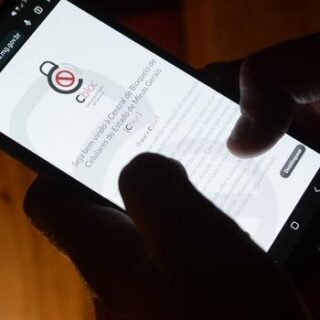Pesquisa liderada por brasileiros aponta que hormônio pode reverter perda de memória causada pelo Alzheimer


Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) conseguiram estabelecer uma relação entre os níveis de irisina — um hormônio produzido pelo corpo durante exercícios físicos — e um possível tratamento para a perda de memória causada pela doença de Alzheimer. O estudo, feito em parceria com outras universidades e institutos, foi publicado nesta segunda (7) na revista “Nature Medicine”.
Os testes foram feitos em camundongos com a doença — que produziam o hormônio ao fazer exercícios ou recebiam doses dele. Os autores explicam que três novidades foram descobertas:
Existem baixos níveis de irisina no cérebro de pacientes afetados pelo Alzheimer. Essa mesma deficiência foi vista nos camundongos que foram usados como modelo no estudo.
A reposição dos níveis de irisina no cérebro, inclusive por meio de exercícios físicos, foi capaz de reverter a perda de memória dos camundongos afetados pelo Alzheimer.
A irisina é o que regula os efeitos positivos do exercício físico na memória dos camundongos.
“A grande contribuição do nosso estudo foi mostrar que os níveis desse hormônio estão de fato diminuídos nos cérebros dos pacientes com Alzheimer.
Em segundo lugar, foi tentar investigar se repor os níveis desse hormônio no cérebro dos camundongos seria bom para a memória. E nós vimos que, de fato, se você aumentar os níveis de irisina, melhora a memória. E, finalmente, foi demonstrar que a irisina é, justamente, o intermediário entre o efeito benéfico do exercício e a melhora de memória”, explica o professor da UFRJ Sergio Ferreira, um dos autores do estudo.
Algumas outras funções da irisina em vários órgãos do corpo já eram conhecidas, como a de regular o metabolismo do tecido adiposo e até de processos que acontecem nos ossos.
Para os autores Mychael Lourenço e Fernanda De Felice, ambos da UFRJ, as descobertas reforçam a importância dos exercícios físicos no combate à doença. Além disso, lembram, o fato de a irisina ser produzida pelo próprio organismo diminui as chances de efeitos colaterais, o que dá esperança para novos tratamentos.
“É diferente de uma droga desenvolvida em laboratório, por exemplo, porque se sabe menos ainda sobre o que pode causar de efeito colateral. Infelizmente não há um tratamento para Alzheimer que funcione, então a busca é muito importante”, diz.
Para De Felice, a novidade foi perceber os efeitos benéficos no cérebro tanto da irisina que foi aplicada nos camundongos como daquela produzida com exercícios físicos.
“Nossas descobertas reforçam a importância da atividade física para prevenir a perda de memória e doenças do cérebro, inclusive a doença de Alzheimer, já que mostramos que a administração de irisina consegue mimetizar, ao menos em modelos animais, os efeitos do exercício físico no cérebro”, avalia.
O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa causada pela morte progressiva de células do cérebro, prejudicando funções como memória, atenção, orientação e linguagem. A doença não tem cura.
Descoberta
Os cientistas levantaram a hipótese de que a irisina poderia ser importante para a doença de Alzheimer há sete anos, quando o hormônio foi descoberto por um pesquisador de Harvard. Ficou constatado que ele melhorava os sintomas de diabetes tipo 2 em camundongos.
“Nós sabíamos que quem tem diabetes tipo 2 tem mais chances de desenvolver Alzheimer, e isso ficou muito tempo sem muita explicação”, esclarece Mychael Lourenço. “Estudos de vários laboratórios mostraram que, ao que parece, os mecanismos que atuam no corpo para gerar a diabetes tipo 2 são muito parecidos com os que atuam no cérebro para causar Alzheimer”, explica o pesquisador.
Daí surgiu, então, a possibilidade de que o hormônio pudesse ter algum efeito protetor sobre o cérebro. “Felizmente, conseguimos achar essa relação”, diz Lourenço.
Ao todo, o estudo foi feito por 25 cientistas de diversos países, com participação das universidades de Columbia e do Kentucky, nos EUA, da Queen’s University e da Universidade do Oeste de Ontário, no Canadá, e ainda da Fiocruz e do Instituto D’Or, ambos no Rio.
Próximas etapas
Apesar de promissores, os resultados ainda precisam de mais estudos antes que um tratamento para pacientes possa ser implementado.
“É claro que é preciso sempre ter em mente que nosso estudo foi feito em camundongos — e nem sempre o que acontece em camundongos acontece da mesma forma em seres humanos”, lembra Sergio Ferreira. Para ele, no entanto, a etapa clínica — em que os estudos são feitos com seres humanos — pode ter dificuldades de ser feita no Brasil.
“Não sei se teríamos condições de fazer isso aqui. Se tivéssemos recursos financeiros e de infraestrutura para isso, com certeza seria de todo interesse nosso. Caso contrário, é possível — acho que é muito provável, na verdade — que isso seja feito em outros países”, avalia. Mesmo assim, Ferreira, calcuila que o planejamento de testes em humanos não leve menos do que três ou quatro anos.
Hoje, cerca de um milhão de pessoas no Brasil sofrem com a doença, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, são 35 milhões afetadas.
Ferreira acredita que a pesquisa representa o resultado do esforço da equipe — que, mesmo com problemas de financiamento, diz, consegue produzir ciência de qualidade.
“A gente não fica a dever nada aos melhores pesquisadores no mundo. O problema que nós temos aqui é a falta de apoio à atividade de pesquisa. Os recursos que são oferecidos para financiar as pesquisas nas nossas universidades são muito, muito, muito abaixo — ordens de grandeza abaixo — do que os nossos colegas em países desenvolvidos recebem. Além disso, demora meses para conseguir comprar um material que frequentemente sai muitas vezes acima do valor que a gente pagaria lá fora”, afirma.
Os testes
Para testar a memória dos camundongos, os cientistas realizaram três testes.
O primeiro era o de reconhecimento de objetos. Os camundongos eram colocados em uma caixa onde eram expostos a dois objetos diferentes, que podiam explorar livremente. Em seguida, os cientistas retiravam os camundongos e trocavam um dos objetos. Depois, colocavam os camundongos de volta na caixa.
O esperado, explica Mychael Lourenço, era que eles explorassem o objeto novo. Isso, de fato, acontecia com os camundongos normais. Aqueles que tinham sido geneticamente modificados para ter Alzheimer, no entanto, passavam o mesmo tempo explorando o objeto antigo e o novo, pois não conseguiam se lembrar que já o conheciam.
Os cientistas, então, mediram a perda de memória dos camundongos de acordo com o tempo que eles passavam explorando o objeto antigo. Quando os animais receberam a irisina, eles recuperavam a capacidade de lembrar como os camundongos normais.
No segundo teste, os animais eram colocados em um labirinto aquático. Lá, tinham que achar uma plataforma onde conseguiriam ficar em pé e não precisariam nadar, economizando energia. Essa plataforma ficava escondida e o caminho até ela era feito com pistas visuais. Os camundongos normais, sem Alzheimer, conseguiam lembrar do caminho. Já os que tinham a doença demoravam mais tempo a achar a plataforma — ou nem sequer a achavam. Quando tinham a irisina aplicada (ou a produziam com exercícios), conseguiam achá-la normalmente.
O terceiro teste foi de condicionamento ao medo. Os camundongos foram colocados dentro de uma caixa onde levavam pequenos choques por um tempo, para depois serem retirados. Depois de 24 horas, eram novamente colocados na caixa. Os que lembravam dos choques tendiam a ficar “congelados”, com medo. Já os que tinham Alzheimer, não. Depois da irisina, esses também conseguiram reter a memória.
De acordo com Lourenço, o efeito do hormônio não foi testado a longo prazo, mas a eficácia se manteve enquanto os experimentos duraram. Ele acredita que um futuro tratamento com a substância não será de uma dose única, mas que, com uma reposição contínua, seria possível manter os níveis do hormônio.
Fonte: G1.com.br